Escrever sobre nós — seres humanos em busca de um paraíso sempre adiado. Como escreveu Yuval Harari, fomos caçadores e coletores que inventaram deuses e ficções para sobreviver; seguimos ainda colecionando mitos para dar sentido ao vazio. Nesse mundo contido numa casca de noz, como sonhou Shakespeare, movemo-nos na solidão azul onde se abrem horizontes sublimes. Entre a perfeição imaginada e a imperfeição real, somos ambíguos, como lembrou Heráclito, filhos da guerra que transgride o caos.
O mundo, a política, os pensamentos e pensadores erguem conceitos — frágeis margens de um todo inalcançável. A ciência vagueia por caminhos nunca antes trilhados, como pressentiu Galileu, e a definição de amor se perde em mil verdades, tal qual escreveu Platão em seu Banquete. A esperança se revela campo minado, lembrando-nos que “o homem é a medida de todas as coisas”, mas também um ser fragmentado, como advertiu Bauman, condenado à leveza líquida de bagagens vazias.
Experiências brilham como vitrais em castelos erguidos à beira da solidão. Entre trincheiras estilhaçadas, ressoam guerras existenciais, ecos de Camus, que nos lembra do absurdo humano e de Sísifo empurrando sua pedra. Ainda assim, o amor persiste como lenda heroica, emoldurada pelo tempo — porque, como escreveu Fernando Pessoa, “tudo vale a pena se a alma não é pequena”.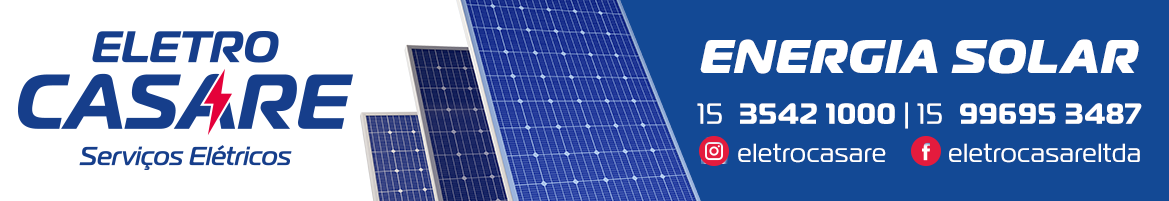
Histórias, contos e crônicas sustentam as ruínas das civilizações. E no centro de tudo, o ser humano, emaranhado em verdades provisórias, tenta convencer-se de que é dono do destino. Mas, entre o fútil, o desejado e o necessário, resta apenas a artificialidade de uma realidade que se esconde no subterrâneo de si mesma, como as ruínas evocadas por Walter Benjamin, em que o anjo da história contempla o amontoado de destroços.
As portas da percepção — como disse William Blake — se abrem. O admirável mundo novo de Aldous Huxley se insinua sob lentes que buscam enxergar além dos jardins. A rudeza dos dias encontra o solo fértil de areias movediças. O buraco negro e a expansão do universo, como imaginou Stephen Hawking, confundem-se com risos e lágrimas nas estranhezas intermináveis das horas.
A guerra que promete paz deixa mãos sujas a contar histórias, e a política mercantiliza a vida sob a lógica cínica dos senhores da guerra. “A verdade vos libertará”, diz o Evangelho, mas na realidade pouco importa a verdade: o que impera são narrativas que sustentam versões convenientes.
O sonho nômade atravessa uma terra em transe. A pátria dos afogados ecoa como em João Cabral de Melo Neto, navegando entre rios secos e florestas artificiais sob a luz da noite escura de São João da Cruz. O animal galopante se afasta das flores, distante do jardim petrificado. E ainda assim, como em Drummond, “no meio do caminho havia uma pedra”, mas também nasce o sol entre temporais, enquanto flores aguardam a primavera.
O desenvolvimento humano e a universalidade dos conceitos, a consciência cósmica que emerge das sombras da memória, lembram-nos de que, como advertiu Nietzsche, ainda vagamos como errantes sob uma chuva de meteoros. As dores do mundo seguem abertas, feridas que não cicatrizam.
A humanidade é contradição. A guerra é mercadoria e o cinismo se veste de ética. George Orwell já nos mostrou que não importa a verdade, mas quem controla a narrativa.
E assim escrevemos o mundo sobre os escombros da humanidade, nos muros da insanidade, entre frases e versos projetados em horizontes quase esquecidos. Nos resquícios da memória, nas pegadas breves de rios e desertos floridos, guardamos cápsulas do tempo e bússolas perdidas no oásis da eternidade.
E as portas — sempre entreabertas — aguardam a entrada de um voo suave, sublime. O impossível sonho que insiste em nascer. Como diria Caetano Veloso, a “força estranha” que nos levanta.
Luiz Carlos de Proença – Autor do livro: O sol nas margens da noite e A pele do vento










