O dia está quase terminando. Depois são outros ventos soprando para outro norte. O que está faltando para uns, pode estar sobrando para outros. Ainda a tristeza nas faces das manhãs, mesmo entre o riso das flores. Até a próxima noite, logo depois do apagar das luzes. Virão outros dias e findarão outros sonhos. São outros caminhos, outros obstáculos e outras feridas para ser cicatrizadas.
As águas jorrarão, e o tempo seguirá seu fluxo, como o Heráclito das margens que nunca se repetem. Embevecido em silêncio, levo as mãos à face e contemplo as estrelas que, como dizia Fernando Pessoa, são “os olhos mortos do infinito”.
Tudo parece perder o sentido. As feridas recusam-se a cicatrizar. As noites são frias demais — lembrando Camus e seu “inverno invencível dentro de mim”. E meu barco, que um dia flutuou sobre nuvens de algodão, agora se perde entre tempestades que não anunciam manhã.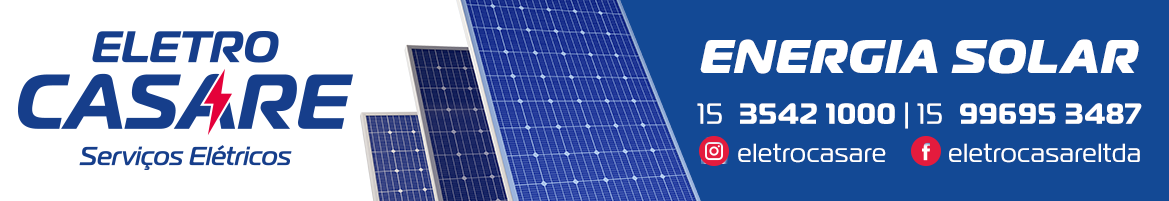
Mas o vento, suave como um sussurro de Rilke, me leva para outras margens, de outros rios. Num momento de silêncio, deixo-me ir para além de mim, como quem atravessa os próprios limites — “além do bem e do mal”, como propôs Nietzsche, mas não sem dor.
O mundo ao redor, no entanto, grita. Não há sono que o contenha. Os anjos velejam estrelas no quintal do paraíso, e ainda assim, a maldade escorre das frestas mais cotidianas. Ela se disfarça em ternura, em beleza, em normalidade. Baudelaire já nos alertava: o diabo mais eficaz é aquele que nos convence de que não existe.
A face do mal é, tantas vezes, a nossa. Praticamos pequenos delitos — às vezes imperceptíveis — e assim, lentamente, nos distanciamos de nossa essência. A liberdade de escolha, dom divino segundo Agostinho, torna-se também maldição.
Tudo pode, e ao mesmo tempo, nada se pode. Como em Kafka, tudo se desfaz sob o peso do absurdo. Somos a face da mesma face — um reflexo de Narciso que não reconhece mais sua imagem. O mesmo olhar, perdido, foca o mesmo horizonte, sempre inalcançável.
Em jardins longínquos, o paraíso e a solidão se entrelaçam. A serpente ainda sussurra no Éden, e Eva — ou Adão — ainda escolhem a maçã. Talvez porque seja mais fácil culpar o outro do que reconhecer o abismo que carregamos no peito.
A distância entre o amor e o ódio é milimétrica, como já sabia Shakespeare: “a fúria do amor desprezado não conhece limites”. Vivemos em contradição constante. Somos, como diria Clarice Lispector, “um sopro” querendo ser inteiro.
A banalidade do mal, como pensou Hannah Arendt, se espalha sutilmente em nossas rotinas. O homem, como afirmou Hobbes, é o lobo do homem. E em tempos de guerras, de misérias fabricadas e desumanidades a céu aberto, sua frase não parece exagero.
A esperança — essa irmã distante da fé — parece se esconder em algum canto inalcançável, como o país das maravilhas de Alice. Olhamos demais para dentro das telas e de menos para fora das janelas. Tudo virou espetáculo. Como denunciava Guy Debord, vivemos em uma sociedade onde o real foi substituído pela representação.
No jogo do poder, vence quem joga sujo. Maquiavel continua sendo lido — e aplicado — nas entrelinhas do cotidiano. As flores, porém, morrem caladas nos jardins das virtudes esquecidas. Como no conto de Ray Bradbury, há quem prefira queimar livros — ou sentimentos — do que tocá-los.
Apesar de tudo, ainda sopra o vento da esperança. Ele sopra das mãos que não esperam receber flores, mas as semeiam. E talvez, como disse Drummond, “numa manhã plena”, o sonho amanheça uma nova manhã.
É tolice implorar migalhas ao tempo. O tempo, como alertou Borges, é o próprio labirinto. E nós, seus habitantes, buscamos saídas que talvez não existam. Ainda assim, o desejo permanece — límpido, exposto ao relento, esperando o inesperado.
O caos se repete, os extremos se chocam. E como em Dostoiévski, vemos homens divididos entre paixão e culpa, entre razão e delírio. Há espinhos — muitos. Mas há também o jasmim, teimoso em sua beleza. Ainda sonhamos.
No terreno baldio da alma, a compaixão luta por espaço. Lançamos anzóis em águas turvas, esperando pescar algum sentido — como quem escreve cartas a um Deus silencioso. E mesmo que o amor doa, mesmo que o ódio queime, ainda queremos viver. Como disse Simone Weil: “amar é aceitar ser vulnerável”.
No fim do dia, ouço minhas músicas preferidas e me permito — por um instante — ser feliz. Meus erros conduzem minhas verdades. Minhas incertezas me movimentam. O mundo não é justo ou injusto. Ele simplesmente é.
Meus sonhos pedem asas, e as asas desejam o céu. Talvez o “por enquanto” seja tudo o que temos. Deixo a lua clarear minhas quimeras e conto aos anjos meus pensamentos inquietos.
Não culpo os outros por meus fracassos. Tampouco me glorifico em minhas dores. Apenas sigo. Levo comigo o sentimento inteiro — esse misto de amor e desespero — e sigo. Entre guerras e conflitos, entre corações vazios e mentes fatigadas, escolho ainda crer.
São as dores de uma paz distante. Mas que seja assim: que esse canto melancólico ecoe outras travessias. Que o silêncio, mesmo doído, ainda apascente o ser. E que, entre espinhos e estrelas, sejamos, ao menos, inteiros por um instante.
Luiz Carlos de Proença – Conselheiro Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Capão Bonito SP – Autor do livro: O sol nas margens da noite










