Sobre a vida, ela se parece com um livro esquecido na última prateleira. Suas páginas, antes brancas, foram amareladas pela poeira e pelo tempo. Diante dele, surgem perguntas inevitáveis: o que a vida quer de nós? Essa pergunta faz sentido? E nós, o que queremos da nossa própria vida? Talvez o sentido não esteja na resposta, mas no fato de ainda insistirmos em perguntar.
Costuma-se dizer que a vida é curta. Dizem também que a vida tem o seu tempo e que esse tempo é suficiente para vivê-la. Entre essas duas ideias, o tempo e a vida se confundem. Há um tempo que o relógio mede com precisão, mas existe outro que escapa quando tentamos explicá-lo. Sabemos que ele existe, sentimos sua passagem, mas ele se desfaz no instante em que tentamos defini-lo. Ainda assim, repetimos: o tempo passa rápido demais. Será o tempo, ou somos nós que passamos distraídos?
O tempo do relógio organiza instantes frios, presos ao movimento regular dos ponteiros. No início, porém, a vida parece um conto de fadas, um passeio pelo jardim da inocência. Tudo é descoberta, e o mundo ainda não exige justificativas. As histórias fascinam, o ritmo é intenso, e tudo parece prometer um horizonte luminoso. As crianças habitam esse tempo raro em que as coisas não servem para nada além de serem o que são. E isso basta.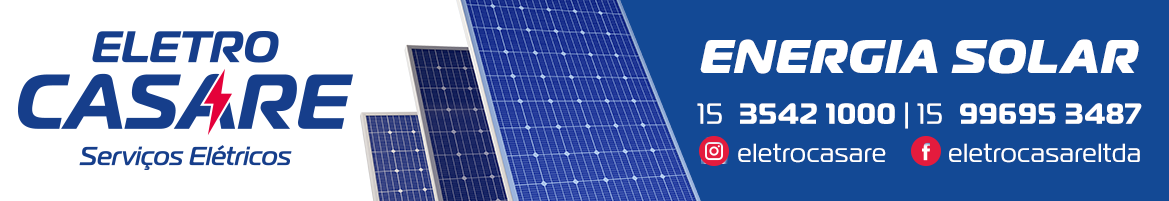
Com o passar dos anos, os instantes se transformam em momentos de fuga de nós mesmos. Corremos em direção a um futuro que nunca chega e deixamos o presente escorrer silenciosamente. Não é o tempo que determina se uma vida é boa ou má. Talvez o tempo seja apenas um espelho incômodo, convidando-nos a revisitar o caminho percorrido. Não para mudar o que já foi feito, mas para alterar o olhar. Rever atitudes, reconhecer limites, perguntar-se com honestidade: como posso ser melhor? Qual é o meu e o nosso desafio diante de tudo o que o mundo oferece e impõe?
Essa inquietação também se reflete na forma como organizamos a vida coletiva. A natureza humana, em sua busca por afirmação, frequentemente tenta impor sua força. O cenário atual revela uma lógica expansionista em que o domínio se naturaliza e o ser humano deixa de ocupar o centro. A brutalidade passa a ser método, e a hegemonia se sustenta não pelo diálogo, mas pela ameaça permanente da força.
A política, que poderia ser espaço de responsabilidade e mediação, transforma-se em engrenagem. Ninguém parece decidir; todos apenas cumprem funções. O mal deixa de precisar de monstros e passa a ser administrado com eficiência. Tudo se assemelha a um grande jogo, no qual o vencedor é sempre o mais forte. Uma versão atualizada do colonialismo, adequada ao século XXI. A soberania cede lugar à imposição, a invasão se justifica como estratégia, e a diplomacia se dissolve em negócios, barganhas e interesses. Os mesmos negociam, os mesmos vencem, os mesmos permanecem intocáveis.
Quando ceder se torna regra, o que resta? Fala-se em ajustes, mas são ajustes que quase sempre beneficiam poucos. O progresso segue por uma via única, sustentado por muitos interesses, muitos envolvidos e raríssimos beneficiados. Entre poder e submissão, consolida-se uma ideologia que une mentes corroídas, doutrinadas e fanatizadas, incapazes de reconhecer o outro como humano.
O mundo passa a ser narrado sob o olhar escaldante de um sol que se aproxima do entardecer. Os dias se acumulam cansados, desgastados por mentiras repetidas, discursos vazios e cretinices normalizadas. Gastam-se milhões para sustentar guerras em nome da paz, enquanto milhões de vidas são ceifadas por uma paz que nunca chega.
Mata-se para preservar ideias, enquanto a própria ideia de humanidade vai sendo esvaziada. No jardim da estupidez, flores são plantadas em solo de pedra. O rio que contorna a aldeia já não acolhe barquinhos de papel, e a árvore antes frondosa transforma-se em tronco seco, cercado por um pântano de hostilidade.
Ainda assim, em algum quarto escuro, repousa um manual de sobrevivência esquecido na estante, distante das mãos e dos olhares. Olhares que se perderam em noites densas e em manhãs cobertas de neblina, quando o mundo parecia pesado demais para ser carregado.
Apesar de tudo, permanece em cada coração um resquício de humanidade. Não uma esperança ingênua, mas teimosa. Daquelas que conhecem o peso do mundo e, mesmo assim, se recusam a desistir dele. Em algumas manhãs, o sol reaparece e ilumina um livro aberto, pronto para receber novas histórias. Histórias de sonhos e de anseios por dias melhores. Mesmo quando as noites são longas e escuras, o horizonte ainda insiste em se deixar ver. Às vezes, basta o afago simples de um sorriso de criança para lembrar que a vida ainda não se fechou por completo.
Um olhar atravessa o concreto do mundo endurecido. Uma lágrima cai e alimenta a flor que, mesmo ferida, resiste. Resiste à ausência, à perda da essência que nos torna humanos. Nesse gesto quase invisível, um tratado silencioso de paz é assinado pela esperança e guardado, com cuidado, no coração da humanidade.
Luiz Carlos de Proença – Autor dos livros: A pele do vento e Humana poesia










